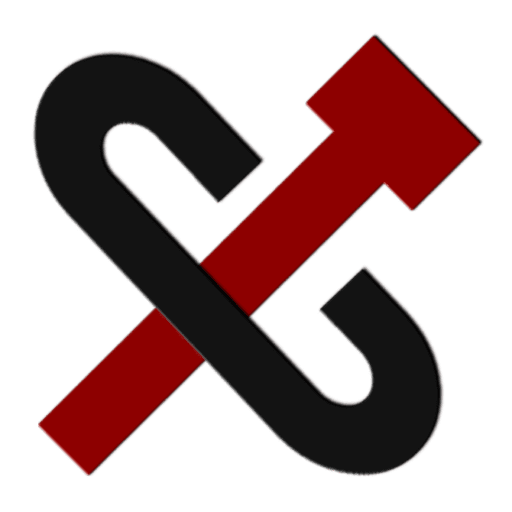No meio da praça pública da ordem burguesa, jaz de pé um cadáver bem-vestido. Sua fala é moderada, seu vocabulário é técnico; seu pulso, no entanto, já não pulsa. Seu nome é PSDB. A recentemente anunciada fusão com o Podemos encerra não apenas a trajetória de um partido, mas revela o esgotamento de uma forma histórica de dominação. O PSDB cumpriu, com distinção, a função que lhe coube na história: implementar a reforma liberal do Estado brasileiro após o ciclo da redemocratização, e preservar as aparências democráticas enquanto aprofundava o desmonte dos direitos sociais. Mas a crise do capital, em escala internacional, exige agora outras formas de mediação. E o liberalismo, que outrora vestiu o capital com palavras elegantes e promessas universais, agora apodrece junto ao seu representante brasileiro mais bem acabado.
PSDB: gênese e função social
O PSDB surgiu como desdobramento da chamada “ala progressista” do PMDB, composta majoritariamente por ex-exilados, acadêmicos e gestores públicos, que se organizou em torno da ideia de modernizar o Estado brasileiro após a ditadura. No início, o partido teve apoio significativo das camadas médias urbanas, dos setores ilustrados da intelectualidade acadêmica, e também de parte da juventude universitária, principalmente nos grandes centros urbanos. Era visto como uma sigla de “centro-esquerda moderna”, uma social-democracia à brasileira, que prometia racionalidade administrativa, ética na política e compromisso com os pobres – mas, logicamente, sem propor nenhuma ruptura com a ordem capitalista.
Uma de suas principais figuras, Fernando Henrique Cardoso, foi um intelectual uspiano conhecido no âmbito acadêmico por ser um dos fundadores e participante ativo do Seminário Marx da USP (1958-1964), no qual eram realizados grupos de estudo que analisavam O capital de Marx. Posteriormente, seria vangloriado pela intelligentsia liberal por sua obra “Dependência e Desenvolvimento na América Latina”, escrito em conjunto com o sociólogo chileno Enzo Faletto, na qual defendeu a tese de que o capitalismo brasileiro não seria incapaz de se desenvolver por conta própria, mas encontraria suas possibilidades de modernização justamente por meio de uma articulação subordinada ao capital internacional. Em vez de denunciar a dependência como entrave ao desenvolvimento autônomo da América Latina – como faria a teoria marxista da dependência –, a obra apresenta essa dependência como uma forma possível e até funcional de desenvolvimento econômico e social. Ao afirmar que a burguesia nacional podia realizar o desenvolvimento “associado”, isto é, integrado ao capital externo e mediado pelo Estado, a teoria de Cardoso e Faletto acabou por legitimar uma estratégia reformista e gradualista, afastada das vias revolucionárias, e converteu-se, posteriormente, numa base teórica para justificar políticas neoliberais sob a bandeira da modernização. A tese de que era possível crescer com dependência, e reformar sem romper, moldaria não apenas sua trajetória intelectual, mas toda a política econômica implementada durante seus dois mandatos presidenciais.
A trajetória acadêmica de FHC não deixou de lhe conferir inicialmente certa legitimidade no campo da esquerda, facilitando a aplicação de um programa de desmonte do Estado e liberalização econômica com roupagem tecnocrática e discurso de responsabilidade institucional. O PSDB cumpriu assim um papel inaugural na implementação da reforma liberal do Estado: privatizou empresas estatais, flexibilizou direitos trabalhistas e subordinou a política econômica aos interesses do capital financeiro. Como consequência, no decorrer dos governos FHC (1995–2002), o PSDB passou a ser identificado como partido das elites, sobretudo pelos trabalhadores urbanos e pelas periferias, enquanto mantinha apoio da alta classe média, do setor empresarial, e dos grandes meios de comunicação. Esse deslocamento do PSDB da centro-esquerda para uma posição claramente liberal consolidou sua imagem como principal operador da ordem burguesa nos anos 1990. Em contrapartida, selou também os limites de sua base social.
Foi explorando esses limites que o PT, ao assumir o governo no início de um novo ciclo de crescimento econômico internacional, aperfeiçoou a gestão dessa mesma ordem. Sua base social enraizada na classe trabalhadora, nos movimentos populares e nos sindicatos permitiu-lhe aplicar, com menor resistência e maior estabilidade, políticas econômicas de fundo liberal, enquanto distribuía migalhas por meio de políticas compensatórias sustentadas pelo chamado “boom das commodities”. A conciliação entre capital e trabalho, erigida como núcleo do lulismo, funcionou durante o tempo em que os ventos da economia mundial sopravam a seu favor. Mas, com a reversão do ciclo e o início da crise global, o pacto se esgarçou, e o cisne do liberalismo se viu diante de seu último ato.
A crise da forma liberal de dominação
O liberalismo foi, em sua essência, a forma política historicamente adequada ao momento em que a burguesia ainda necessitava de uma aparência de universalidade para consolidar seu poder. Em nome da liberdade, instituiu a propriedade privada como direito sagrado. Em nome da igualdade jurídica, naturalizou as desigualdades econômicas. E em nome da representatividade, ocultou o poder real do capital sob o manto da soberania popular. No Brasil da “Nova República”, essa forma encontrou expressão plena no PSDB, partido que soube converter o discurso da modernização e da estabilidade em veículo para a ofensiva do capital financeiro sobre o fundo público, o trabalho assalariado e os serviços públicos essenciais. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, operou a inserção subordinada do país na nova lógica de acumulação imperialista ditada pelo Consenso de Whashington. Seu papel histórico foi o de consolidar a hegemonia do capital financeiro no Brasil durante o período de expansão da financeirização mundial.
Contudo, essa forma de dominação entrou em declínio à medida que a própria base material que a sustentava começou a ruir. A crise internacional de 2008 marcou o início de uma nova etapa do capitalismo, em que o esgotamento das chamadas “políticas neoliberais” como projeto de estabilização levou ao aprofundamento generalizado da instabilidade política, econômica e social. No Brasil, a combinação entre recessão econômica, crise fiscal e perda de legitimidade das instituições corroeu o discurso da responsabilidade e da moderação, pilares do ideário tucano. Não demorou para que os filhos da crise invadissem em massa as ruas, naquilo que ficou conhecido como “jornadas de junho” de 2013. Todavia, mesmo com o PT estando no governo, e sendo em grande parte alvo das contestações vindas das ruas, o PSDB não foi capaz de surfar nessa onda. A promessa de progresso sem conflito, de reformas sem rupturas, perdeu tração diante do esgarçamento das contradições sociais. Diante da “nova direita” que emergia com radicalidade daquelas mobilizações, o PSDB passou então a ser visto como uma força política envelhecida, incapaz de mobilizar novas bases sociais e de oferecer respostas minimamente eficazes à nova conjuntura.
A perda de protagonismo do PSDB não foi um acidente isolado, mas expressão localizada de um processo mais amplo: a decomposição da forma liberal da dominação em escala global. Tal como outros partidos que ocuparam o centro político nas democracias liberais – como os social-democratas europeus e os democratas norte-americanos –, os tucanos deixaram de expressar um projeto sequer elegível. Nesse contexto, o capital não mais consegue aparecer de cara limpa na arena política, com sua própria plataforma eleitoral de ajustes, contrarreformas e privatizações. A morte do PSDB é a grande evidência brasileira desta nova conjuntura. Sua fusão com o Podemos, longe de representar uma reconfiguração estratégica, é apenas a formalização de sua irrelevância para o atual momento histórico. O capital, diante da crise prolongada, já não necessita de gestores equilibrados, mas de operadores capazes de garantir estabilidade da ordem capitalista por outros meios. É nesse ponto que a política passa a revolver entre dois polos: o da anestesia progressista e o do bisturi reacionário.
A nova polarização política global
O esgotamento do liberalismo como forma política predominante está enraizado na crise estrutural do capital. À medida que a taxa média de lucro declina e os mecanismos clássicos de expansão produtiva se exaurem, o capital recorre crescentemente à financeirização, à precarização do trabalho e ao espólio de bens públicos como formas compensatórias de valorização. Esse processo mina as bases materiais que sustentavam o pacto liberal-democrático: crescimento econômico, consumo de massas, estabilidade institucional. Em contextos de estagnação e regressão social, o capital já não pode prometer progresso generalizado nem universalizar direitos. A forma liberal da dominação – fundada no consenso, na mediação parlamentar e no discurso da igualdade jurídica – perde eficácia como mecanismo de reprodução da ordem. É a própria base da hegemonia burguesa que entra em crise, forçando o sistema a buscar novas formas de mediação e contenção.
Diante da crise de legitimidade da democracia liberal e da corrosão das bases materiais da hegemonia burguesa, o capital foi forçado a estruturar sua dominação sobre um novo eixo: a oscilação funcional entre dois blocos políticos distintos: o progressismo social-liberal e a extrema-direita reacionária. Essa oscilação, porém, longe de representar uma forma estável ou racional de dominação, expressa o atual impasse histórico da ordem capitalista. Não é sua melhor forma – é a única que restou.
O bloco social-liberal, travestido de centro-esquerda democrática, administra os interesses do capital financeiro com rigor tecnocrático, enquanto desempenha, com retórica social, a contenção das lutas populares. Elege-se com apoio das massas, mas governa com fidelidade aos mercados. Atua como para-choque da luta de classes, desarmando a crítica, dissolvendo as mobilizações e conduzindo reformas regressivas sob a máscara da responsabilidade institucional. Mas esse próprio papel desmoraliza suas bases sociais: ao não cumprir o que promete, cava a frustração e o desencanto, preparando o terreno para o retorno da direita.
Já a extrema-direita, embora formalmente rejeitada por parcelas do capital mais internacionalizado e pelo núcleo financeiro mais consolidado, cumpre uma função complementar: organiza o ressentimento difuso contra a política, ataca os direitos sob o pretexto da moralidade, e impõe brutalidade em nome da ordem. Seu discurso é o da ruptura, mas sua política serve à mesma lógica de acumulação. Contudo, sua fúria contra as instituições – tribunais, parlamento, imprensa, organismos multilaterais – compromete os próprios mecanismos mínimos de estabilidade requeridos pelo capital. Por isso, quando extrapola os limites do jogo, o próprio capital recua. Foi assim com Trump nos EUA, com Bolsonaro no Brasil, e com outros ensaios autoritários pelo mundo.
Essa alternância entre anestesia e bisturi, entre gestão e agitação, é o pêndulo que sustenta, por ora, a dominação burguesa em tempos de crise. Um pêndulo que não oferece estabilidade nem futuro, mas apenas sobrevida ao sistema. Seu motor é o medo: medo do fascismo, medo do comunismo, medo da desordem – qualquer coisa que impeça o surgimento de uma alternativa real. Enquanto isso, a classe trabalhadora é mantida ora como espectadora, ora como refém.
No Brasil, essa nova polarização política que começa a se manifestar a partir de 2013, se fortalecendo em 2016, e se consolidando definitivamente nas eleições de 2018, não oferece mais espaço para o PSDB. Nesta nova configuração, de um lado, a direita radicalizada, bolsonarista, reivindica a ruptura institucional em nome dos “cidadãos de bem” contra a “corrupção comunista”, e, de outro, um progressismo domesticado clama pelo retorno à “normalidade democrática” enquanto assina as reformas que dilapidam os direitos do trabalho. O tucano, sem utilidade para nenhum dos dois campos, foi descartado, e, hoje, entoando seu canto fúnebre, funde-se com o Podemos.
Horizonte perdido?
A atual crise do sistema político burguês não se resume à corrosão dos seus partidos tradicionais. Ela expressa uma falência mais profunda: a incapacidade das instituições representativas de canalizar, estabilizar ou conter a crise social e econômica que se alastra. A democracia liberal, fundada sobre a promessa de que o voto poderia mediar os interesses antagônicos entre capital e trabalho, já não convence nem mobiliza. O próprio rito eleitoral perdeu eficácia integradora. Cada pleito traz mais desconfiança, mais abstenções, mais ressentimento. O Estado se vê cada vez mais reduzido a uma máquina de gestão do capital e de repressão à revolta.
Nesse cenário, a esquerda institucional, em particular o campo que se reivindica “progressista”, cumpre um papel central: o de administrar os escombros da democracia, enquanto busca restaurar uma estabilidade que o capital já não consegue sustentar. Governos de centro-esquerda, quando eleitos, seguem implementando agendas econômicas favoráveis ao capital financeiro, enquanto tentam conciliar com políticas compensatórias que atenuem – mas não revertam – a degradação das condições de vida da classe trabalhadora. Sua função é dupla: impedir o avanço da extrema-direita e conter qualquer impulso antissistema que ameace a ordem. Mas ao fazê-lo, bloqueiam a possibilidade de emergência de uma alternativa revolucionária, reproduzindo, ainda que com outras cores, a lógica da dominação burguesa.
Em meio à fragmentação do movimento revolucionário, à ausência de uma direção orgânica da classe trabalhadora e à crise teórica do marxismo contemporâneo, não há hoje uma força capaz de disputar com solidez a hegemonia sobre os setores em movimento. A extrema-direita ocupa o espaço da crítica abandonado pela esquerda – e o faz com vocabulário próprio, com mitologia, com aparato digital e mobilização permanente. Sua crítica é mentirosa, mas audível. Sua alternativa é reacionária, mas é a única alternativa radical divisada pelo povo. Ao passo que a crítica comunista, quando aparece, é difusa, cifrada, marcada por disputas doutrinárias internas e por um isolamento que a impede de se traduzir em ação política real.
É esse o impasse: um sistema político em decomposição, sustentado por uma oscilação cada vez mais frágil entre reformas impossíveis e reações destrutivas; uma classe trabalhadora em movimento, mas sem direção; e um movimento comunista dividido, desorganizado, sem força material acumulada nem síntese estratégica comum. Nesse contexto, a tarefa histórica dos comunistas não é apenas resistir, mas reconstruir: um programa, uma organização, uma estratégia e, sobretudo, um horizonte.
A crise que atravessamos não será superada com a mera substituição de figuras no palco institucional, nem com ajustes superficiais à engrenagem desgastada do Estado burguês. Ela exige, dos comunistas, mais do que denúncia moral ou testemunho ideológico: exige ação histórica. Mas essa ação só pode emergir de uma compreensão rigorosa do tempo presente, de sua estrutura e de suas determinações, e, sobretudo, da retomada de uma perspectiva revolucionária ancorada na centralidade da classe trabalhadora como sujeito transformador da ordem.
Romper o pêndulo entre a gestão social-liberal e a ofensiva reacionária não significa simplesmente criticar ambos os polos. Significa construir uma alternativa real à dominação burguesa em crise. E essa alternativa exige um esforço coordenado dos comunistas para devolver à teoria revolucionária sua função prática: orientar a luta de classes com vistas à emancipação humana. O horizonte comunista – que hoje parece perdido – precisa ser reconstruído. E isso só pode se dar a partir de um processo consciente de reunificação do movimento.
Isso exige, antes de tudo, que os comunistas recusem de uma vez por todas o papel de acessórios do reformismo. Em nome da luta contra o “mal maior”, as organizações revolucionárias têm sido cooptadas, repetidamente, para legitimar governos que não apenas não enfrentam o capital, mas o fortalecem. É preciso romper com essa lógica de capitulação constante, que transforma a estratégia revolucionária em propaganda inócua e converte o comunismo em retórica nostálgica. Na atual conjuntura, o fosso que separa o movimento comunista do reformismo social-democrata precisa ser cavado ainda mais fundo, a ponto de a diferença entre ambos se tornar visível às massas trabalhadoras.
É imperiosa a reabertura do debate estratégico à altura dos desafios contemporâneos. A centralidade do trabalho, a crítica à forma-Estado, a superação da fragmentação identitária que dilui a classe, a reconstrução de uma estratégia socialista para o século XXI – tudo isso deve ser recolocado em movimento, a partir da prática concreta e da elaboração coletiva. Nenhuma organização isolada dará conta dessa tarefa. O momento histórico exige uma nova articulação do movimento comunista internacional, ancorada na unidade de ação, na síntese estratégica, e na crítica radical de todo o existente.
A Centralidade do Trabalho inscreve sua ação nesse horizonte. Reconhecemos que a crise do movimento comunista é parte da crise mais ampla da forma capitalista de produção e dominação, mas também afirmamos que ela pode e deve ser superada. Não por decretos ou slogans, mas pelo trabalho paciente de reconstrução revolucionária: teórica, organizativa e militante. A decomposição da democracia liberal, da qual o PSDB não passa de amostra particular, anunciam o fim de uma era. A tarefa dos comunistas é preparar o início de outra.